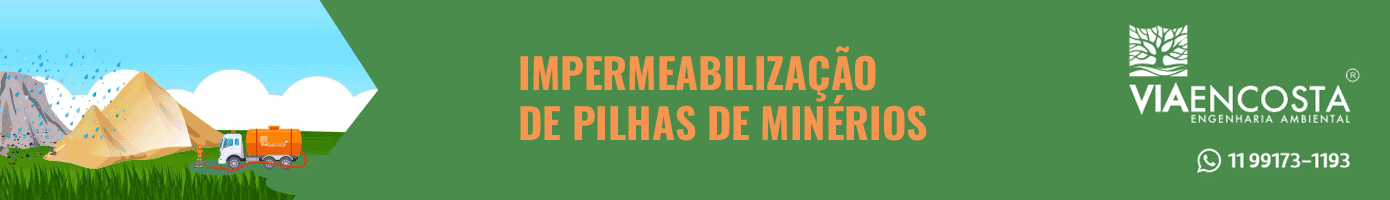*Por Milton Rego
Participei recentemente de um seminário promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), na Fundação FHC, que discutiu o cenário da indústria mineral brasileira. A cadeia do alumínio esteve presente com Otavio Carvalheira, CEO da Alcoa, que falou sobre a experiência de Juruti (PA). Também estiveram presentes ONGs, representantes da academia e do poder público. Foi um evento de alto nível.
O foco das palestras mirou o enorme desafio que se coloca para os projetos de mineração e, em especial, na necessidade de estabelecerem uma relação de cooperação com as comunidades em que estão inseridos. Parece simples, mas não é. E para entender porque não é simples, temos que dar um passo atrás e jogar luz sobre o Brasil que interage com as minerações.
O Brasil profundo
Trabalhar na Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) me levou a conhecer as regiões que acolhem os projetos de mineração e industrialização da bauxita. E, desde o início, ficou patente para mim o hiato de percepção que existe entre os brasileiros das cidades do Sul e do Sudeste (e os respectivos meios de comunicação), e o que acontece no chamado “Brasil profundo”. Isso vale para a mineração, mas também para grandes projetos na região amazônica, como as hidroelétricas.
Esse Brasil está longe da grande imprensa. Exibe índices de desenvolvimento abaixo da média. Não tem esgoto nem acesso à água tratada, sofre com preocupantes índices de criminalidade, possui uma informalidade muito maior na economia e a questão fundiária é explosiva. As pessoas que ocupam uma área morando ou trabalhando a terra normalmente não tem a sua posse. Esse Brasil é habitado pelas populações tradicionais: ribeirinhos, quilombolas, índios, castanheiros.
É nesse Brasil que estão as nossas principais reservas minerais.
Atividade invisível
Os recursos da mineração são finitos e locacionais. Não há como minimizar essa questão. É por isso que se paga royalty pelo uso do minério. Ele não será reposto. Por outro lado, justamente por estar localizado em comunidades desassistidas, o papel estratégico dos investimentos é fundamental.
Muitos países perceberam isso, como as nações escandinavas, o Canadá e a Austrália, só para ficar nos principais. E seus governos deram apoio a projetos que servem interesses nacionais: de desenvolvimento, de integração, geopolíticos e, especialmente, que criam condições sustentáveis para o fortalecimento dos territórios envolvidos.
Os que trabalham nas indústrias da mineração lembraram, durante o seminário, que a atividade não é percebida pela sociedade. E, se fosse, dada a sua importância, deveria merecer uma campanha como a do “Agro é Pop”, desenvolvida pela Rede Globo e bancada pelo segmento do agronegócio. Essa ação publicitária foi bem sucedida ao mudar a percepção do público, que até então associava a agricultura a uma atividade rudimentar, pouco tecnológica.
A mesma estratégia aplicada à mineração teria de lidar com questões complexas. A atividade é invisível para o cidadão comum e só se torna manchete em situações negativas. Tem ainda um lado complicado, ilegal, na maioria das vezes, ligado à atividade garimpeira. De modo geral, é capital intensiva, ou seja, gera poucos empregos diretos. Além disso, os seus benefícios são assimétricos. São mais importantes para o país do que para as populações nas áreas de lavra.
Quer dizer, agricultura e mineração são bichos diferentes.
Outra questão espinhosa: o Brasil profundo é uma região de enorme passivo civilizacional, onde há carência de tudo. Quando ocorre um acidente em um projeto de mineração, essas deficiências todas, independentemente das responsabilidades, são expostas na vitrine.
Imagine uma comunidade próxima de um lixão, sem água nem esgoto, vizinha de uma atividade industrial. Agora imagine essa área sofrendo uma enchente. Não é preciso ser um gênio para imaginar a quem está reservado o papel de vilão da história. É nessa situação de precariedade, de informalidade, de falta de Estado, que está inserida a maioria dos projetos de mineração da região Norte.
Do conflito à cooperação
Não existe fórmula mágica para lidar com tais questões. Mas, algumas conclusões me parecem claras:
• Há de se esclarecer à sociedade a diferença entre uma atividade de mineração organizada, legal, que cumpre as leis, daquela informal, poluidora, que depreda o meio ambiente. O garimpo ilegal é crime e tem de ser combatido como tal;
• A Amazônia não é um grande estoque. Faz parte do Brasil e é a casa dos povos que ali habitam. São eles (também) que têm de nos dizer o que querem da sua terra. Temos o costume de olhar a Amazônia com olhos urbanos do sul do Brasil ou, pior, com os de um outro país do Atlântico Norte;
• Saber escutar é fundamental. A licença social para operar projetos de mineração é resultado de uma construção dinâmica, ao longo do tempo, de todos os envolvidos. Isso exige muita conversa com as populações locais. É preciso saber o que essas populações querem durante e depois da operação da mina. Por isso, preparar a comunidade para o fechamento da mineração é fundamental;
• O emprego dos royalties pago pela mineração tem de ser objeto de escrutínio das comunidades. A falta de informação e clareza se tornam o combustível da desconfiança. A transparência ajudaria a diminuir a malversação dos recursos. Conciliar objetivos nacionais e locais é uma questão fundamental;
• No Brasil, as melhores jazidas estão em regiões desassistidas pelo Estado. Brasília e também a sociedade civil (ONGs, principalmente) têm de perceber que a mineração responsável pode ser uma forma de melhorar o déficit social desses territórios;
• Last but not least, temos a nossa lição de casa. As empresas têm que dar cada vez mais importância à construção de um futuro comum com as comunidades onde operam. Isso significa uma agenda que irá alterar desde a capacitação dos seus administradores, passando pela forma de identificar e contabilizar riscos, até a importância do conceito da sustentabilidade na orientação dos negócios.
*Milton Rego é Engenheiro mecânico, economista e bacharel em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Especialista em Gestão pela Fundação Dom Cabral, desde 2014 é o presidente-executivo da Associação Brasileira do Alumínio (ABAL).